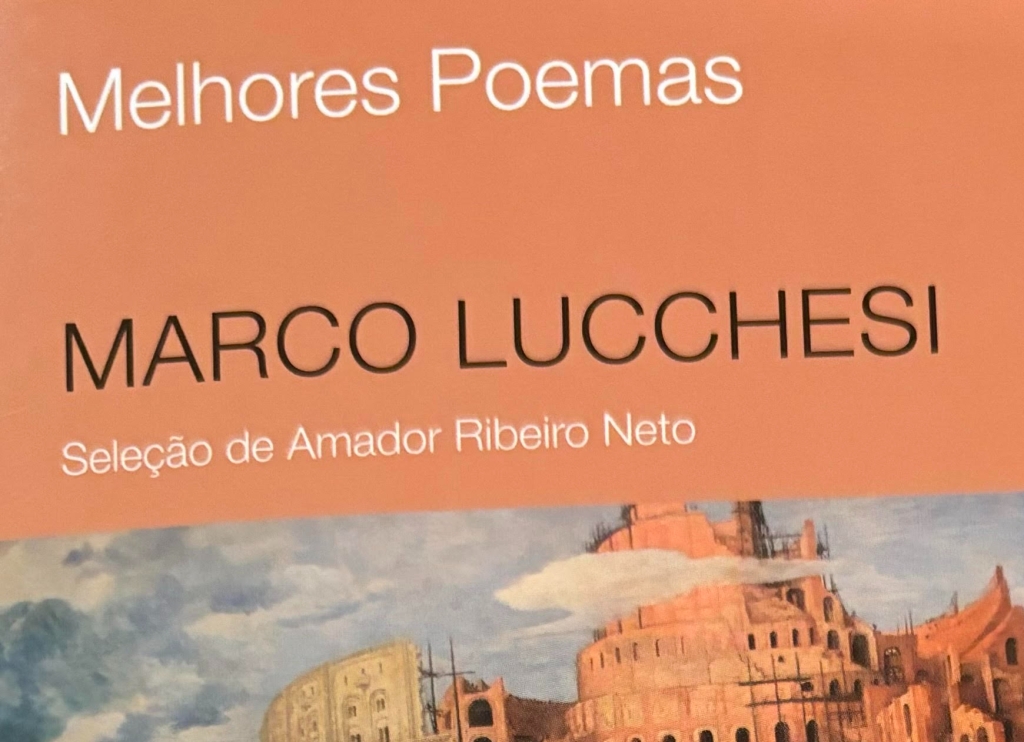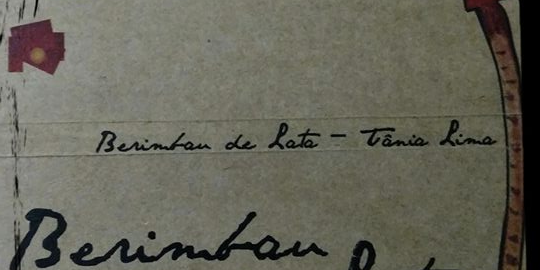Amador Ribeiro Neto
Fabrício Marques (Manhuaçu-MG, 1965) é mestre em Teoria da Literatura e Doutor em Literatura Comparada pela UFMG. Professor, jornalista e poeta. Autor de Marquises (1992), Samplers (2000), Meu pequeno fim (2002), A fera incompletude (2011). A máquina de existir (S. Paulo: Pedra Papel Tesoura, 2018) é seu mais novo livro de poemas.
O que se destaca, de chofre, ao término da leitura de A máquina de existir, é a gratificante sensação de ter-se lido uma obra que mantém a excelência da qualidade dos poemas de ponta a ponta. E, ao fazer tal afirmação, reitero a observação do saudoso Carlos Felipe Moisés nas orelhas.
Destaco este aspecto porque já é lugar comum afirmar-se que todo livro tem seus altos e baixos. Praticamente impossível fugir desta destinação. Pois a poesia de Fabrício Marques atinge a maturidade. E o leitor é o grande presenteado.
Com poemas longos, bem longos, outros mínimos, um poema em prosa (proesia), e numa variedade temática que vai das memórias familiares ao sexo com a amada, passando pelas tecnologias (seus recursos, sua terminologia), o livro é uma máquina de engendrar sensibilidades inteligentes.
A linguagem dialoga com a literatura (Drummond, em especial, Bandeira, T. S. Eliot, Valéry, Mário Faustino, Affonso Ávila, Leminski), a música popular (Caetano, destacadamente, mas também Gil, Torquato), as artes plásticas (Hélio Oiticica, Volpi), filosofia (Ortega y Gasset, Nietzsche).
Na composição dos poemas a estrutura está, de tal modo bem incorporada às ideias que, praticamente, passa despercebida. Mas, lá estão, em intertextualidade formal, recursos advindos de diferentes artes: cinema, arquitetura, canção, pintura. Antonioni, Saura, Le Corbusier, Cartola, Tarsila.
A dicção drummondiana, ora às claras, ora oblíqua, talvez seja a dominante do livro. O grande poeta mineiro é invocado no ritmo dos versos, na invocação do universo familiar e, acima de tudo, na percepção corrosiva da vida. Corrosão que, por vezes, traveste-se de ternura, para amenizar seu impacto. Mas resulta, sim, em amplificação da angústia.
O poema “Uma noite” inicia-se esperançoso: “Ela voltará para casa / e eu a reconhecerei de longe”. E conclui-se de forma aterradora: “Por ora, / todos a procuram / num raio de 16 quilômetros”.
“Deslimites” crava a dor da mesma clave: “Vida, / estamos quites: // você ignora / meus palpites”. E conclui: “infinita- / mente // triste”.
Em “Pólen”, a estagnação da natureza estende-se pelos sentimentos do eu-lírico: “A árvore não cresce mais / e o amor também acabou”.
Esta ausência do amor presentifica-se até quando ele existe, mas não encontra sua expressão em palavras. Transcrevo o poema “Apenas três”:
Consta que a língua portuguesa
tem em torno de 400 mil palavras,
e eu preciso de apenas três
justo as que me faltam
as que não consigo dizer.
Em contraponto à decepção/desilusão do existir há os movimentos de uma máquina que engendra sonhos. E aí o amor surge como “o eixo da vida”, nas palavras de outro orelhista, o Tarso de Melo. Depois de enumerar as dificuldades do existir, no poema que dá título ao volume, conclui: “a luz vai brilhar / como um vagalume / que só acende”. Portanto, não apenas haverá uma luz, mas haverá uma luz contínua a mover a máquina da vida. Afinal, depois de citar textualmente Caetano no poema “Mais-valia”, conclui enfático e otimista, referindo-se a famoso poema de Coelho Neto: “eu escolho ser a chuva / que lentamente dissolve, / fibra por fibra, / as geleiras seculares”. Em tempo: poema resgatado por Torquato Neto em celebrada canção edipiana.
Se há um painel semiótico de artes englobadas pela poesia de Fabrício Marques, sem dúvida a poesia cantada da MPB, ao lado da poesia impressa dos livros, é forte marca d’água a tatuar as fendas dos poemas.
Caetano, explícito em “Mais-valia”, reaparece sutil em “os átomos todos”, de “Felizes”, e em “Totem para o homem zapping”: “sou uns / sou uns e outros a seu dispor”, e oblíquo em “fruta gogoia”, música do folclore baiano imortalizada por Gal, em gravação sugerida por Caetano.
Afora tais aspectos estruturais e estruturantes de A máquina de existir, há versos memoráveis que colam na memória do leitor. Destaco dois: 1. “pra quem está no escuro, tanto faz o sotaque da lua”; 2. “amanhã é domingo, floração de incertezas”.
Enfim, Fabrício Marques publica belo e delicado livro de poesia. Sorte nossa, seus leitores. Transcrevo três poemas.
CAMADAS
Há o mar
E dentro do mar
há a nuvem,
pronta para partir.
Dentro da nuvem
há uma concha.
Dentro da concha,
o que eu mais amo,
pura pérola.
Lá dentro do amor,
mil variações de amor.
E dentro das diversidades
há a chuva.
Há a chuva.
Eu caio
e, dentro da queda,
me levanto em pleno azul.
Dentro do azul,
o movimento dos barcos
e a solidão da gávea.
Longe e perto
a praia imensa
no país do céu exíguo
As longas hastes
de seus dedos tocam
a morada do ser
A concha descansa
em alto mar
ora em suas margens
ora lá no fundo
E no fundo do fundo
do mais dentro
o silêncio
E dentro do silêncio
o abismo
que toda palavra contém
a onda perfeita
a pura pérola
o mar
sempre recomeçado
DESLIMITES
Vida,
estamos quites:
você ignora
meus palpites
eu aceito
teu convite:
cultivar
meu apetite
de satélite
que insiste
lançar-se
sem limite
rumo a tudo
que existe
no espaço
entre mim e ti,
infinita-
mente
triste
ENQUANTO DORMES
Enquanto dormes, sem que percebas,
reparo teu sono: teu corpo, meu mundo.
A luz da arandela incide sobre a movimentação
rochosa do granito, o quarto mudo,
eu me pergunto: o que se passa? Teus
200 ossos a me convocar em vário ritmo:
a carne é franca. Ossos não mentem,
a carne é franca, a repetir num rito.
Ave, palmas breves; ave, flexor do hálux;
salve, pectínio: tua pelve, minha praia.
E no tumulto do sangue, ave, valva;
salve, átrio; e se joguem na pista, na veia, na raia.
Enquanto dormes, amo teu esplênio,
o escaleno anterior e o posterior, dando voltas
– o que se passa? As articulações estalam,
um involuntário sorriso: teu riso, mil volts.
Muito acontece enquanto dormes:
vértebras e tendões se entendem, sem áporos;
músculos profundos dialogam,
e amo tudo o que se passa sob teus poros,
aqueles mesmos que envolvem, lâminas de tecido,
teu corpo, e respiras, entreaberta fresta,
e me convidas para a algazarra de seres vivos
a que serves de abrigo: teu corpo, uma festa.
O movimento rápido dos olhos. O movimento
rápido das pernas. Pra que tanta pressa,
meu Deus? Se fatalmente te sei por um
és-não-és, digo, por um triz, tão presa
a mim e ao mesmo tempo tão alheia
ao meu lento escrutínio: teu sono, meu garimpo.
E, não só com os olhos, mas com todos
os sentidos, teu corpo desço e grimpo
Súbito, me lembro: hoje, mais cedo,
comeste fruta gogoia. A lembrança brusca
do alimento se aventurando por teu corpo,
a começar do véu palatino, em busca
de sossego, de um final remanso onde se dissipe
(o que se passa?) em breves rusgas
enquanto dormes, e é estranho, mesmo para mim,
o crescimento imperceptível de rugas
e distraio-me por um segundo, mas retorno
a teu corpo, que nunca é o mesmo: meu pódio
acolhendo uma grande família: prócero,
esplênio e ilíaco, amo vocês, sem réstia de ódio.
Teu corpo em repouso, a carne é franca
e fracas são as horas em demasias de relógio.
Aqui, neste quarto, sob o comando de lobos
e hemisférios, enquanto dormes elogio
teu corpo em repouso, uma senha – não
para confundir as leis que regem teu sonho –
mas para salvar a desusada emoção
com que penetrei fundamente no teu sono
pois sei que estás para acordar, e a mim
só resta o arrepio do toque, apenas sobra
o gesto de deitar em teu colo, doce
e úmida província: teu corpo, minha obra,
aquela mesma que com mil chamas
permanece alheia a um mundo em que tudo ruísse
e ainda assim vibrássemos em paz,
até que despertasses, e o teu corpo todo risse.